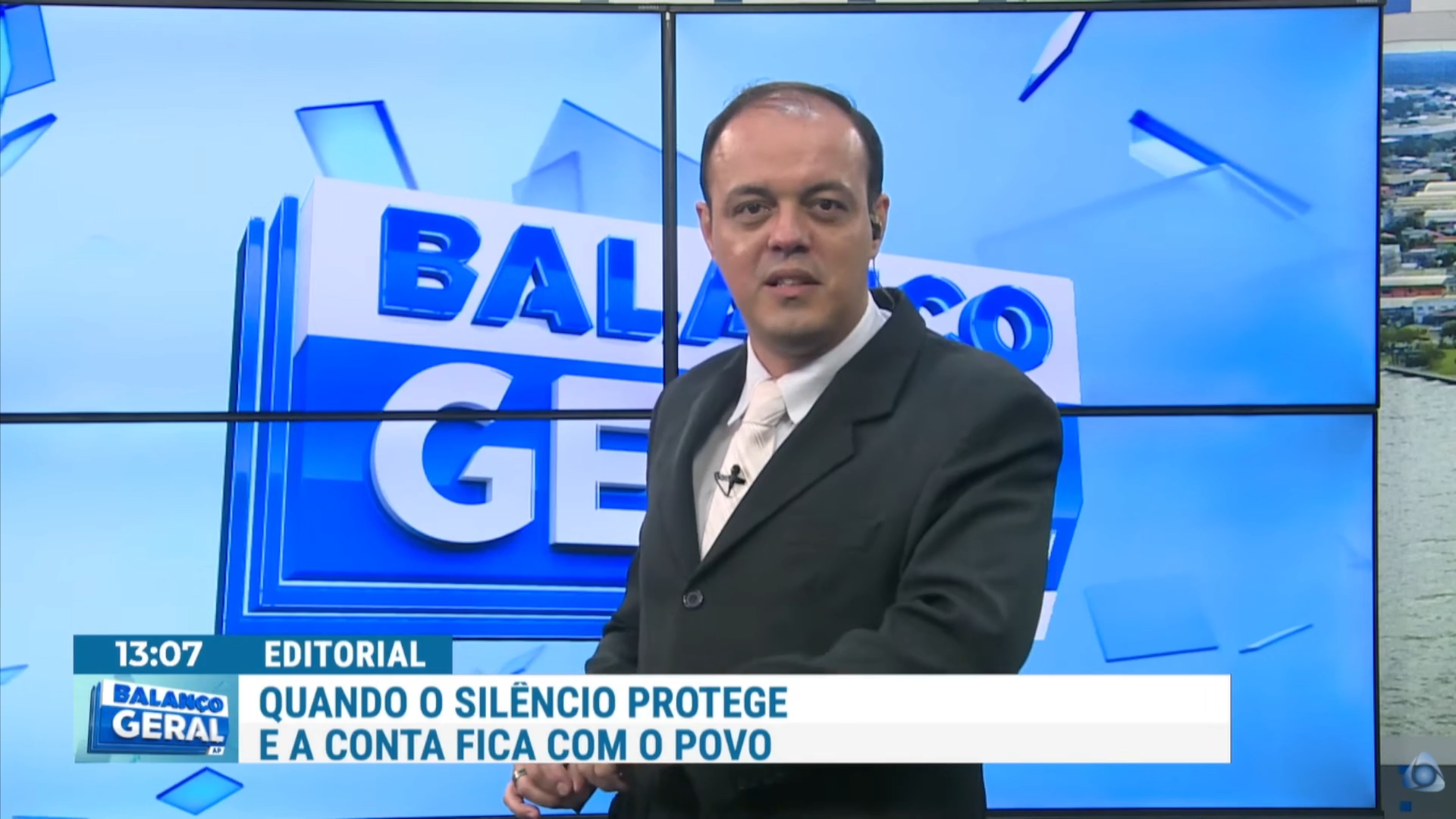Por Leonardo Corrêa *
“A Corte Suprema de um país merece o mais profundo respeito. Não pelo brilho dos nomes que a compõem, nem pela pompa de suas sessões, mas porque representa a última trincheira institucional da liberdade. É guardiã do texto constitucional, e sua legitimidade nasce – e morre – no compromisso com esse texto, com a constitucionalismo. A lei que governa aqueles que nos governam. A fronteira que protege o cidadão contra o arbítrio.
Mas, no Brasil, essa fronteira foi cruzada. Não por tanques, não por gritos – mas por doutrinas. Sim, o que nos trouxe até aqui não foi um golpe clássico, foi uma mutação silenciosa. Ao longo das últimas décadas, ideias perigosas germinaram na academia jurídica. Suas sementes se chamam pós-positivismo e neoconstitucionalismo. Nomes técnicos, sonoros, sedutores – e profundamente destrutivos.
Essas doutrinas ensinaram que o texto, incluindo o constitucional, é pouco. Que a norma deve ceder à moral. Que o juiz deve interpretar conforme os valores da sociedade, mesmo que esses valores nunca tenham sido escritos, votados, aprovados. E foi assim que, sem que o povo percebesse, o Judiciário deixou de aplicar o Direito para começar a criá-lo. A Constituição virou palco de vontades. Princípios vagos passaram a justificar tudo. O intérprete deixou de ser servidor do texto constitucional e passou a ser o autor do enredo.
E o que parecia apenas uma inovação teórica revelou, enfim, sua verdadeira natureza: o desmonte sistemático dos freios e contrapesos. O Executivo deixou de governar. O Legislativo passou a ser ignorado. E o Judiciário… bem, o Judiciário vestiu a capa de pretenso salvador da pátria – e acreditou nela.
Hoje, o mundo nos observa perplexo. Um ministro da Suprema Corte brasileira – Alexandre de Moraes – acaba de ser formalmente sancionado pelos Estados Unidos por graves abusos de poder: censura, perseguição política, prisões arbitrárias, atos contra cidadãos americanos. Não se trata aqui de defender ou aplaudir sanções estrangeiras, mas de reconhecer o óbvio: chegamos a esse ponto porque abandonamos a Constituição como norma.
Moraes não surgiu do nada. Ele é o produto final, acabado, lógico, de um modelo que transformou o juiz em oráculo. Que ensinou o magistrado a agir “além do texto” constitucional, a decidir com base em sentimentos e símbolos, a fazer justiça com a própria régua. Ele é a consequência prática de uma teoria que dissolveu a República por dentro.
O mais grave dos desvios institucionais não é quando o juiz erra. É quando ele se coloca acima da legalidade. Quando acredita que sua missão transcende o Direito. Quando se torna legislador moral. É nesse instante que o juiz deixa de ser juiz – e a Constituição deixa de ser constituição. O que vivemos hoje não é apenas um excesso de autoridade. É a consequência teórica de um movimento que autorizou o abandono do texto constitucional em nome de princípios flexíveis, subjetivos, manipuláveis. É a revolução feita de dentro para fora, com votos de julgadores, não com fuzis.
E enquanto essa estrutura teórica continuar hegemônica, o problema persistirá. Não adianta trocar nomes. Não adianta esperar moderação. Não se conserta uma República onde os intérpretes governam. Porque quando o juiz se acha maior que a lei, a liberdade se torna favor, a crítica vira crime, e a República, um teatro de aparência.
Há, hoje, um falso dilema no ar: defender a soberania nacional ou aceitar críticas e sanções externas. Mas a escolha real é outra – e mais profunda. Ou se defende a soberania popular, garantida pelo parágrafo único do artigo 1º da Constituição, ou se protege quem usurpa esse poder em nome de uma autoridade sem freios. Porque não há soberania legítima quando o próprio guardião da Constituição a viola.
Não há independência quando os direitos fundamentais de brasileiros – e até de estrangeiros – são ignorados por decisões que negam o devido processo legal, a liberdade de expressão e a separação de poderes. Invocar o nome da República para proteger seus violadores é o maior dos contrassensos. Defender a Constituição, hoje, exige coragem para romper com quem a trai em nome da institucionalidade.
Acima de tudo, essa defesa exige memória. Porque a história do Ocidente está repleta de momentos em que povos inteiros, tomados pelo medo ou pela ilusão de estabilidade, escolheram proteger o autoritário em vez de proteger seus próprios direitos fundamentais. A Alemanha que aplaudiu Hitler para escapar da crise. A Roma que trocou a República por um Império em nome da ordem. A França revolucionária que entregou sua liberdade a Robespierre – e depois a Napoleão. A Itália que trocou a democracia pelo fascismo, desde que os trens chegassem no horário. A tentação é sempre a mesma: tolerar o abuso institucional desde que ele venha embalado em promessas de segurança. E o resultado também é sempre o mesmo: a liberdade morre em silêncio, com o aplauso de quem deveria defendê-la.
É esse o ponto em que estamos. É esse o teste da nossa geração. Quando um ministro da Suprema Corte atropela o texto, ignora garantias, persegue vozes dissonantes e chama isso de defesa da democracia, não estamos diante de uma polêmica — mas de uma ruptura. Quando, em nome da soberania nacional, se pretende blindar quem violou as bases do próprio pacto constitucional, é preciso perguntar: soberania de quem? Do povo ou do poder? Da Constituição ou do intérprete?
Porque só há uma soberania legítima no regime republicano: a soberania popular. E ela não se exerce com aplausos resignados, mas com vigilância, crítica e o compromisso inegociável com os princípios que nos constituem como Nação. Defender a Constituição, hoje, é ter a coragem de dizer que a toga não pode ser escudo para o arbítrio – e que a História não perdoa os povos que se ajoelham diante do autoritário quando deveriam levantar-se em nome da liberdade.
É tempo, portanto, de conclamar os juristas – especialmente aqueles que ainda acreditam na dignidade da profissão – a resgatar os fundamentos esquecidos. Primeiro, reafirmar que o Estado existe para preservar a liberdade, não para concedê-la por benevolência ou retirá-la por conveniência.
Segundo, recordar que a separação de poderes não é formalidade: é a alma da nossa Constituição Federal, a garantia contra a concentração que oprime e corrói. E por fim, recuperar a humildade original da toga: ao Judiciário cabe dizer o que a lei é, e não o que ele gostaria que ela fosse. Fora disso, só resta o império da vontade. E onde há vontade no lugar da lei, a liberdade morre em silêncio.
A aplicação da Lei Magnitsky contra um juiz do nosso Supremo Tribunal Federal não deve, em nenhuma hipótese, ser motivo de regozijo. Não é uma vitória. É uma ferida. Uma nação não se engrandece quando vê seus tribunais expostos à censura internacional – ela se envergonha. No fundo, é triste. Triste ver como uma ideologia jurídica foi minando, pouco a pouco, as bases institucionais do país. Como a substituição da legalidade pela vontade corroeu as traves da República. Como o abandono da norma, em nome da suposta virtude, nos trouxe a esse ponto de humilhação histórica.”

* Leonardo Corrêa, advogado, LL.M pela University of Pennsylvania, sócio de 3C LAW | Corrêa & Conforti Advogados, é um dos fundadores e presidente da Lexum.